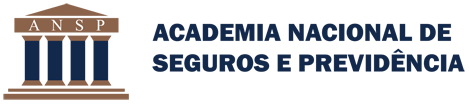Este artigo não tem a pretensão de ser um estudo ou proposição teóricos ou acadêmicos. Longe disso, ele foi construído a partir de notas para a minha participação no Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE), que tratou, em Lisboa, do tema “Os desafios do desenvolvimento: o futuro da regulação estatal”, em abril de 2022. Tais notas foram preparadas para uma reflexão prática sobre o que poderia se passar sobre um novo para- digma de regulação de mercados com intervenção do Estado, por agências reguladoras, tendo por base a ferramenta das transações eletrônicas entre os diversos agentes de uma determinada cadeia produtiva, ou cadeia de valor, de setores regulados.
Em apertada síntese, o que os reguladores de todo o mundo vêm ensejando para a modernização dos mercados sob sua supervisão é que o advento e consolidação da digitalização – o uso dos dispositivos digitais, desde celulares até computadores de maior alcance – permitirão o empoderamento dos consumidores de produtos regulados, pela maior transparência destes em ambiente de trocas obrigatórias para os ofertantes e, como resultado, maior concorrência entre esses ofertantes supervisionados.
Para além das reconhecidas virtudes desse novo paradigma, alcunhado como open – em termos seminais o open finance, que agora alcança os seguros pelo open insurance, e outros tantos mercados regulados ainda de forma incipiente, a minha abordagem naquele evento foi mais para propor reflexões sobre as possibilidades e limites dessa regulação com forte conteúdo tecnológico. Não apenas pela minha experiência do difícil debate das premissas tech no setor de seguros, mas principalmente para buscar enquadrar o que acho mesmo uma obsessão exagerada dos reguladores pela tecnologia em todos os campos da vida humana mundo afora, em face do restrito acesso a esses padrões tecnológicos de conteúdo digital em um país como o Brasil, em que há mais exclusão do que inclusão, em geral, e em particular, no campo de transações eletrônicas.
Para tanto, a arquitetura regulatória tem se revelado uma obra monumental. Mais do que custos de tudo isso, debatem-se atualmente desde as premissas, passando pelas possibilidades de efetividade dessa obra, até, e principalmente, a aderência da arquitetura às possibilidades, à confiança e às expectativas do destinatário final: o consumidor.
Palavras-chave: Mercado segurador. Agências Reguladoras. Tecnologia digital. Insurtechs. Open insurance. Consumidor.
_________________________________
- Introdução
O fato é que se reacendeu recentemente no Brasil o debate sobre o papel das agências reguladoras setoriais e o futuro da regulação. Os dois debates não caminham juntos, mas há óbvia inter-relação ente eles. As agências foram criadas durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), de cunho socialdemocrata, e seu modelo buscava conferir maior permanência para as políticas e os programas de supervisão e fiscalização dos mercados, já que estariam menos suscetíveis aos ciclos políticos que sempre afetam os Ministérios a que se vinculam. Entretanto, o que se esperava não ocorreu plenamente, e as indicações políticas e a descontinuidade dos reguladores e da regulação foram de certa forma transferidas do Poder Executivo para o Poder Legislativo, no Senado Federal, a quem cabe referendar ou rejeitar as indicações dos candidatos a administradores da supervisão setorial.
Há que se reconhecer que avanços existiram, apesar dessa frustração do processo de maior independência das agências. O recrutamento por concurso, ampliação da capacitação, estruturação de decisões colegiadas, aumento do orçamento, maior escrutínio de visões diferentes ou complementares entre as diversas unidades operacionais das agências são alguns dos atributos que fizeram avançar a regulação no país. Apenas para efeitos comparativos dos seus resultados, basta mensurá-los com os dos demais órgãos disciplinadores dos mercados ainda estruturados sob o regime de autarquias especiais.
Mais recentemente surgiu um novo paradigma, ainda em curso, agora não tanto sobre o papel das agências reguladoras, mas sobre o seu principal instrumental de supervisão, que também deve ser contextualizado. Desta vez, a partir de diretivas de um governo de cunho mais liberal, que é a de ceder a chamada regulação extensiva – mais “dura” – à regulação principiológica, esta última sendo mais “flexível”, desamarrando os regulados dos altos custos da obediência ao aparato fiscalizador e dos custos de transação (processos demorados e cartoriais) que vêm impedindo a modernização dos mercados setoriais. Em resposta a esse novo paradigma, a iniciativa privada chamou para si a tarefa de estruturar o Sistema de Seguros Aberto, envolvendo diversos agentes em prol de um modelo capaz de suportar um extraordinário volume de dados, criar um ambiente ágil e seguro para o compartilhamento de dados pessoais do titular do contrato de seguros, sem descumprir os princípios de governança e dispositivos expressos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Concretamente, estamos falando da onda tech, mãe do anglicismo open, com suas espécies open finance, open insurance, open health e outras mais. Capitaneada pela experiência exitosa do Banco Central do Brasil, essa onda vem permeando a revisão dos modelos de supervisão, indiscriminadamente. A matriz do paradigma é europeia, embora hoje mais avançada no Brasil, e tem como motivação a imensa capacidade do atual instrumental tecnológico digital para permitir transações em tempo real entre todas as partes de uma cadeia de valor setorial, com a participação de todos os seus agentes. O resultado seria, então, substituir a supervisão extensiva e ineficiente pela transparência granular de dados de desempenho em todas as dimensões empresariais e, mais importante, dar um suposto choque de competitividade ao emponderar o consumidor em sua capacidade de comparação de produtos. Isso, ao final, permitiria o surgimento de um chamado marketplace da interação de todos os participantes de cada ecossistema setorial, em que o consumidor poderia fazer as suas melhores escolhas e a portabilidade dos seus produtos entre concorrentes.
Ocorre que, estes são os pontos que nos parecem vitais, o acesso ao mundo digital é absolutamente assimétrico em um país com as dimensões e diferenças culturais e de renda como é o Brasil. Há, portanto, que se modular a metodologia com a capacidade de acesso da população para que a onda tech seja inclusiva. Por outro lado, que os reguladores do mundo open não cedam à tentação – como vem ocorrendo – de transformar a regulação com apoio tecnológico em mais um padrão extensivo de captura de informações, com o resultado de altos custos de transação que o modelo “conservador” deixou como herança. É preciso dar centralidade à visão do consumidor, ou melhor, aos milhões de consumidores ainda sem acesso digital, ou com conexão insuficiente.
Para um melhor enquadramento do tema da tecnologia como novo paradigma regulatório dos seguros, parece preciso voltar aos fundamentos históricos, ou melhor, à própria história do desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil.
O setor de seguros no nosso país tem mais de 150 anos de existência. Embora se considere como marco legal estruturante o Decreto-Lei nº 73, de 1966, não possui mais do que 70 anos – e, a serem comparados com os seguros de países maduros, os avanços do nosso setor originam-se apenas há 30 anos. Buscando avançar no tema deste artigo, é preciso reconhecer que na modernização de marcos regulatórios infralegais, o mercado de seguros apenas tem observado desenvolvimento por volta de três anos.
3.1 Antecedentes até a década de 90
Sem que seja olvidada toda a história dos códigos imperiais e do antigo período republicano brasileiro, o fato é que a memória produtiva dos seguros no Brasil se inicia com as reformas estruturais da economia e dos mercados nacionais no período autoritário de 1964. Sucedendo as reformas bancária e do mercado de capitais, em 1966 foi editado o Decreto-Lei nº 73, uma espécie de Medida Provisória, nunca votada.
O Decreto-Lei que estabeleceu toda a estrutura dos seguros, respondeu com eficiência formidável ao pressuposto básico da época, que era o incentivo à formação do mercado nacional, porém com absoluta proteção da capacidade interna de retenção dos riscos securitários. O expediente excêntrico foi a polarização da tomada de riscos pelo Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB. Na ausência de mecanismos de capitalização das companhias de seguros brasileiras, o IRB, órgão estatal, durou 65 anos como efetiva empresa, tomando e distribuindo riscos pelas poucas companhias brasileiras a merecer a atenção do Estado.
Consequentemente, a regulação estatal foi tremendamente prescritiva. Eram verdadeiras concessões às seguradoras, com pouquíssimas possibilidades de abertura a novas empresas. Foi a origem da estupenda concentração do setor segurador brasileiro.
Com inexistente estímulo ao empreendedorismo, a concentração de incumbentes foi acompanhada de centralização de riscos em poucos segmentos, ou “ramos”, como alcunhados até hm,koje. Esse desenho de circunscrição de riscos deixou pouca margem para a proteção da população, empresarial e securitária, além dos ramos ligados a automóveis, seguros de vida, de residências, e mais uns poucos.
Pelo lado da supervisão do Estado, igualmente pouco foi necessário a desenvolver. A regulação estatal não avançou pela falta de relevância de supervisão em mercado concentrado, “de e para” a sociedade. As estatísticas de penetração dos seguros falam por si mesmas: nesse período, nada mais do que 1% a 2% do PIB.
Evidentemente, a Constituição Federal de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor, no limiar da década de 90, foram marcos legais superiores a inaugurarem novo papel do Estado em setores regulados e exacerbar o novo centro dos sistemas regulados, que é o consumidor.
3.2 Antecedentes na década de 90
Após a chamada, pela Economia, “década perdida de 80”, é cediço que a estabilização econômica trazida ao final pelo Plano Real (1994/1995) trouxe as primeiras bases para novo posicionamento dos mercados privados brasileiros. Em sua consolidação, mais confiança, em geral. No tocante ao mercado de seguros, algo que veio a reverter em parte o paradigma protecionista até então em voga: o pressuposto da abertura dos mercados, com o misto da socialdemocracia no papel das políticas sociais e do liberalismo no empreendedorismo econômico. O primeiro resultado foi a abertura do setor segurador à concorrência externa. Em 1996, a Advocacia Geral da União, em consulta formulada pela Susep, concluiu que a Constituição de 1988 não previa o impedimento do estabelecimento de companhias estrangeiras no território nacional a explorarem os seguros. Alguns anos depois, começou a ruir o monopólio do resseguro, pressionado que estava o Brasil pelos seus parceiros internacionais da Organização Mundial do Comércio. E ruiu mesmo adiante, depois de algumas aberturas parciais ainda na década de 90.
Embora aberto o mercado brasileiro à sua concorrência em 1996, o capital estrangeiro ainda precisava de mais condições objetivas para o seu efetivo exercício aqui. Afinal, a regulação dos seguros permanecia muito prescritiva. Os seguros não tinham ainda, no posto superior das autoridades econômicas, a mesma ênfase que mereciam as políticas econômicas e monetárias, as políticas bancárias e do mercado de capitais. Em 1998, novo paradigma foi quebrado, com a edição da Lei nº 9.656, que regulou o mercado geral de planos e seguros de saúde, trazendo todos para o mesmo espaço regulatório. Mesmo com as clivagens de natureza legal e infralegal, do ponto de vista de sua compreensão maior prática e regulatória, havia e há unanimidade de que ambos, planos e seguros de saúde, devem obedecer em equidade a princípios securitários.
3.3 Antecedentes dos anos 2000 até 2018
Tudo veio a mudar com a consolidação da estabilidade econômica e com o “boom” econômico dos anos 2003 até 2008. Com produto, emprego e salários médios crescendo, aumentando também a inclusão social, foram tais fatores os combustíveis para uma alavancagem que levou os seguros de 2% para 3,5% do PIB e os planos e seguros de saúde para 3% do PIB, agora mensuráveis. O resseguro foi definitivamente aberto em 2016. Os bancos controlados pelo Governo (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) despertaram para os seguros e fizeram inéditas reconstruções societárias para abrir seus balcões de vendas às parcerias com companhias estrangeiras e nacionais com expertise em cada segmento de produtos.
O mercado brasileiro de seguros experimentou uma revolução silenciosa nesse período. O barulho é apenas demostrado pelas altas taxas consistentes de crescimento desde o final dos anos 2000, da ordem de dois dígitos anualizados.
O reposicionamento estratégico setorial não esteve cingido à entrada e crescimento das companhias estrangeiras e aos bancos públicos, como também veio através de acordos societários de companhias nacionais com estrangeiras. Mas, com especialização inédita de cada segmento de administração de riscos, mormente com os antes impensáveis acordos extras societários, ditos “operacionais”, de canais bancários de incumbentes seguradoras se abrindo a produtos e serviços de concorrentes, dependendo de seus focos de tomada de riscos.
3.4 Antecedentes de 2019 até o presente
Em fevereiro de 2019, tomou posse na Susep, a superintendência supervisora dos seguros no Brasil, uma nova equipe de diretores diretamente designada pelo Ministro da Economia. O seu propósito foi claro desde o início da sua gestão de três anos: modernizar o setor de seguros pela desregulamentação das condições de acesso e de exercício das seguradoras no mercado, implementar a regulação de proporcionalidade de exigências normativas conforme o porte das seguradoras, incentivar o acesso das insurtechs ao espaço competitivo e acompanhar o Banco Central do Brasil em sua saga de acelerar ao máximo a implementação do open banking, desta vez incorporando o sistema de seguros à prioridade de abertura (open) das informações para todos os agentes da cadeia produtiva dos seguros por meio das transações eletrônicas de informações devidamente padronizadas. O ânimo que revestiu o alcance dessa empreitada foi traduzido na expectativa de um “choque de competitividade”, que dobraria, em seis anos, a participação setorial para 7% do PIB.
Embora a persistência dos efeitos econômicos recessivos da economia iniciados em 2016 tenha frustrado as taxas de crescimento setoriais, o segmento segurador mostrou-se relativamente resilientes aos ciclos econômicos. Do mesmo modo, o choque pandêmico iniciado em março de 2019 teve resposta mitigadora, meses à frente, a partir da crescente preferência da população e das empresas pela proteção dos seguros, em presença do risco das doenças e da morte e da volatilidade de ativos financeiros e de títulos mobiliários.
Esse ambiente de confiança nos seguros permitiu o avanço da transição da supervisão estatal prescritiva para uma outra, baseada em princípios. Em pouco tempo foram editados os normativos fundamentais para a desregulamentação do segmento de seguros de ramos elementares, também conhecido como “de ramos de patrimônios e responsabilidades”.
Ao mesmo tempo, com coordenação centralizada de políticas econômicas e de seguros, a prioridade do regulador recaiu sobre a implementação, em passo acelerado, do open insurance, ainda que a falta de experiência internacional e certo voluntarismo sobre o escopo extensivo do modelo tivessem feito crescer as resistências dos agentes privados.
Em dezembro de 2021 foi anunciada nova equipe na Susep, ainda em plena marcha da implantação do open insurance. Com a mudança, estima-se que o debate de questões normativas associadas ao modelo, doravante, seja mais de ajustes de escopo e prazos do que de sua revisão estrutural.
- O futuro da regulação: o open insurance como novo paradigma
Como referido, o open, em geral, e o open insurance, em particular, temas deste artigo, são uma iniciativa regulatória em mercados supervisionados pelo Governo. O seu objetivo primário é o acesso e compartilhamento digital de dados entre todos os agentes de uma cadeia produtiva através de Application Programming Interfaces (APIs), um expediente de tecnologia da informação que permite extração padronizada de sistemas legados (os sistemas construídos ao longo da vida das empresas). Para tanto, indispensável a interoperabilidade dos sistemas de dados de todos os agentes de um ecossistema. Que todos possam trocá-los nas mesmas bases tecnológicas.
O objetivo subjacente dos reguladores é o de aumentar a concorrência entre os ofertantes de produtos e serviços regulados, através do acesso, pelos consumidores, de todos os seus produtos contratados, bem como os produtos similares oferecidos, para permitir comparação, escolhas e, no limite, portabilidades.
Esse objetivo partiu do foco de debates da evolução dos setores financeiro e de seguros europeus: quais medidas de mercado ou regulatórias seriam necessárias para facilitar um adequado ecossistema comum de dados? O Brasil é precursor do open, tendo iniciado sua trajetória com o open finance, que está sendo seguido pelo open insurance. Fala-se agora no open health.
A estrutura conceitual surgiu na Comunidade Econômica Europeia em 2015/2016, ainda havendo debates conceituais na Europa, Inglaterra e Austrália, principalmente.
Embora inexista definição internacional uniforme sobre esse ecossistema, a EIOPA (autoridade europeia de seguros e fundos de pensão) define três pilares de compartilhamento de dados para melhorar o acesso e eficiência competitiva dos setores. O primeiro pilar é o do regulador, aumentando a sua capacidade de registro de dados dos regulados para melhorar a supervisão. O segundo pilar, dos setores regulados, através da obrigatoriedade de compartilhamento e oferta, aos consumidores, de todos os produtos e serviços comparáveis. O terceiro pilar é o do consumidor, mediante a sua expressa permissão, da abertura dos dados pessoais de sua experiência e de seus produtos.
Finalmente, e no limite, surgiria a formação de um marketplace (sic.) transacional de ofertas, compras e portabilidades.
- Para além do open insurance: o desafio da ampliação da proteção
À vista do quanto até aqui desenvolvido, a estrutura e o ritmo de implementação do open insurance no Brasil ainda não permitem assertividade sobre o sucesso da empreitada, embora esteja havendo crescente adesão ao modelo em geral, seguindo o que já ocorre com o open finance.
Assim, parece haver poucas dúvidas sobre o progresso e conclusão positiva dos pilares open relativos à padronização, coleta, tratamento e divulgação das informações dos vários segmentos de negócios para fins de supervisão estatal em tempo real. A ideia é investir na abertura de dados de produtos e serviços entre as companhias e segurados. A complexidade maior residiria, então, no pilar subsequente, e finalístico, de exercício das portabilidades pelos consumidores e de formação e funcionamento do chamado marketplace de transações eletrônicas de compras, vendas, trocas e portabilidades.
O fato é que o acesso à tecnologia é absolutamente assimétrico no Brasil, país de dimensões continentais e de grandes e profundas disparidades culturais, regionais e por extratos de rendimentos, além das consequentes discrepâncias de acesso à educação securitária, mormente considerando a alta complexidade e sensibilidade econômica e social dos produtos de seguros tomados em sentido amplo. Essa é a razão pela qual o papel da distribuição, ou intermediação, de produtos e serviços sempre teve relevância nacional, seja para fazer chegar a proteção a todas as localidades, seja para apoiar as escolhas dos consumidores.
Esse fato da assimetria do acesso à tecnologia está expresso na publicação “O abismo digital no Brasil”, editada em 2022, em conjunto pela empresa internacional de consultoria PWC e o Instituto Locomotiva.
Conforme o estudo, apenas 1/3 da população brasileira pode ser considerada plenamente conectada digitalmente, sobretudo brancos das classes A e B. Os outros cidadãos ficam sem conexão durante mais da metade do mês. Outra conclusão é a de que 58% dos brasileiros acessam a internet apenas pelos smartphones, os celulares. Além do que, 87% da população não fala um segundo idioma, presumivelmente sendo difícil que compreendam adequadamente todos os anglicismos que acompanham o universo open em voga.
Do ponto de vista da proteção securitária, esses dados também são eloquentes. Porque sabemos da baixa penetração de produtos e serviços de seguros, concentrados que estão nos cidadãos de rendas altas e médias residentes nas capitais das cidades mais importantes e nos centros interioranos de maior densidade de produção e emprego.
Por outro lado, é amplamente reconhecido que a inclusão digital também é fator de progresso social, haja vista o salto formidável do acesso de amplas camadas à mídia social – e, tão importante quanto, às transações eletrônicas (ainda que limitadas a smartphones de todas as gerações tecnológicas) no sistema bancário e de compras mercantis diretas.
Não é por outra razão, portanto, que grande parte da resiliência do setor de seguros às crises recessivas e à recente crise epidemiológica tenha sido atribuída à base técnica subjacente e que foi acumulada durante os últimos dez anos, permitindo a interação remota entre todos os elos da cadeia de valor dos seguros.
A questão que estaria a merecer equacionamento é a da compatibilização entre políticas e práticas, empresariais e regulatórias, de inclusão securitária para amplas camadas da população brasileira, além da modulação do escopo e ritmo do open insurance. O grau de energia e recursos dispendidos, em todo o sistema de seguros, para a implementação do open insurance não pode se descuidar da prioridade de continuar a se colocar em marcha, ainda na necessária flexibilização de produtos e exploração de todo o tipo de canais de sua oferta e distribuição, sejam eletrônicos, sejam suportados presencialmente, sejam híbridos, a depender da complexidade dos produtos de proteção e da tipologia do cidadão interessado.
Objetivamente, o open insurance não pode correr o risco de transformar-se em plataforma transacional privilegiada para os que ainda formam, historicamente, a base dos seguros. Tampouco os custos da empreitada digital devem descurar da regra básica de sua submissão à análise de impacto regulatório e de custo/benefício, ou carregar os preços de produtos e serviços para serem suportados por aqueles com as já referidas evidentes restrições de acesso. Seria o paradoxo da “inclusão digital excludente”.
As reflexões anteriores mostram que o setor de seguros brasileiro tem experimentado saltos recentes para uma regulação de acesso e exercício no mercado, e de conduta, mais aderentes a padrões internacionais, que buscam facilitar o ambiente de negócios, reduzir custos de transação e promover a concorrência, tudo com o fim último de ampliar o acesso da população aos produtos e serviços de seguros, previdência privada aberta e capitalização.
Ao mesmo tempo em que se atravessa essa transição, tendo como cenário um setor solvente, capitalizado, com elevado padrão concorrencial e de densidade de inovação e tecnologia embarcada, o país é precursor de iniciativas, gestadas na Comunidade Econômica Europeia, que buscam formar um ecossistema aberto de informações transacionadas eletronicamente entre todos os participantes da cadeia de valor dos seguros (seguradoras, corretores, governo, intermediários cadastradores de informações e consumidores), inaugurando um novo padrão regulatório.
O sistema aberto, o open insurance, é de grande complexidade e alcance, atributos esses proporcionais aos custos iniciais e de manutenção de sua implementação pelas seguradoras. Já na outra ponta, a do consumidor, ainda há forte exclusão digital dos cidadãos brasileiros, ao lado do seu desconhecimento sobre as vantagens de aderirem ao futuro ecossistema. Essas duas condições colocam incertezas sobre o sucesso da empreitada, pelo menos a permanecerem o escopo, ritmo e indefinições sobre a receptividade do usuário final. Isso sem contar com as restrições colocadas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para o compartilhamento, mesmo que voluntário, dos dados dos segurados.
Esse ambiente recomenda pelo menos uma premissa: a adotada recentemente pelas autoridades sanitárias mundiais na aplicação das vacinas contra o vírus COVID-19, para reduzir contágios, sofrimentos e desperdícios de vidas, que é a de testar, testar e testar a presença dos vírus nas pessoas.
Então, como reflexão final, e tendo presente que frustrações sobre resultados esperados são um dos principais inimigos de políticas públicas, a recomendação conclusiva deste artigo é a adoção do mais amplo escrutínio social, e dos testes de aderência das iniciativas à realidade setorial, visando à progressividade do ecossistema pretendido, que é o paradigma geral das autoridades da Comunidade Econômica Europeia, berço dos open.
 *Marcio Serôa de Araujo Coriolano
*Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Economista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e Pós-Graduado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ). Integra o Conselho Consultivo da CNseg e o Comitê Estratégico da Iniciativa FIS. Acadêmico desde 2017 da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).
Esta publicação online se destina a divulgação de textos e artigos de Acadêmicos que buscam o aperfeiçoamento institucional do seguro. Os artigos expressam exclusivamente a opinião do Acadêmico.
Expediente – Diretor de Comunicações: Rafael Ribeiro do Valle | Conselho Editorial: João Marcelo dos Santos (Coordenador) | Felippe M Paes Barretto | Homero Stabeline Minhoto | Produção: Oficina do Texto |Jornalista responsável: Paulo Alexandre | Endereço: Alameda Santos 2335 – 11º andar, conjunto 112 – Cerqueira César – São Paulo – SP – CEP 01419-002 | Contatos: (11)3335-5665| secretaria@anspnet.org.br | anspnet.org.br |