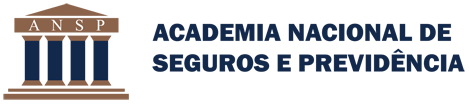A COVID-19 está na lista dos eventos mais desafiadores da humanidade e de seus sistemas de bem estar e de proteção desde que começamos a escrever a história. A falta de paradigmas e precedentes, por sua vez, gera reações cujo grau de amadurecimento e correção técnica é bastante heterogêneo.
Mesmo no tocante aos tratamentos dos doentes, notamos visões incompatíveis supostamente fundamentadas em ciência sobre o que devemos fazer. Especificamente no que se refere ao setor de seguros brasileiro, logo no início da crise, foi proposto que as seguradoras cobrissem perdas relacionadas à COVID-19, mesmo quando elas eram riscos expressamente excluídos. Pela própria natureza das perdas em questão e pela natureza humanitária da proposta, esta acabou sendo mais direcionada aos seguros de pessoas.
Essa cobertura seria um ato humanitário, de solidariedade e de empatia por parte do mercado segurador com aqueles atingidos pela pandemia. Nesse contexto, algumas questões merecem ser levantadas.
Um ato de solidariedade ou empatia não deve ser custeado com reservas técnicas destinadas a pagamentos de sinistros. Caso contrário, os recursos destinados a perdas cobertas podem, em teoria, em cenários muito ruins agora não esperados, fazer falta quando eventuais perdas efetivamente cobertas acontecerem.
Independentemente de fazerem falta ou não, já que o setor de seguros brasileiro apresenta excepcional capacidade de resistir a eventos dessa natureza, atos de solidariedade deveriam ser diretamente custeados pelos acionistas das seguradoras ou pelo patrimônio líquido delas, onde estão, muito grosso modo, os recursos destinados aos acionistas e que, portanto, podem ter sua destinação mais livremente decidida por eles.
Tratar tais eventos como perdas cobertas por contratos de seguro sugere que a exclusão era inválida ou que as seguradoras podem decidir pela desconsideração das exclusões legitimamente contratadas. Ambas as premissas estão obviamente erradas e provavelmente gerarão distorções futuras.
Sabemos que tais decisões não são fáceis e que o momento não permite o luxo do amadurecimento cuidadoso delas. Sabemos, também, que, no Japão, a criação por seguradoras e resseguradores de fundos humanitários destinados a compensar perdas não cobertas por seguros foi fundamental na reação a graves eventos naturais que acometeram aquele país.
Já na América Latina, a experiência de fundos humanitários tem sido péssima. Isso, talvez, pelo nosso desapego ao respeito a contratos e por outros elementos culturais nada úteis ao nosso desenvolvimento, elementos estes, diga-se de passagem, muito mais problemáticos do que as nossas supostas “veias abertas”, ponto central do nosso falacioso vitimismo, infiltrado inclusive em decisões judiciais proferidas em processos, por exemplo, relacionados à relações de consumo, seguros e planos de saúde.
De qualquer modo, nesse caso, faríamos melhor nos equiparando ao Japão.
As distorções decorrentes do tratamento equivocado da questão são muitas. Já vimos artigos de advogados respeitados “deixando claro” e “revelando” que tais pagamentos de perdas não cobertas são nada mais do que o reconhecimento da ilegalidade das exclusões de pandemias. Vimos, ainda, Governantes de países desenvolvidos irem a público dizer que exclusões de pandemias, no que se referem à cobertura de business interruption, não são justas, porque por muitos anos as empresas tiveram seguros sem sinistros. Não é necessário demonstrar que afirmações populistas como essa não mereceriam ser ditas nem em uma mesa de bar, muito menos se se pretendesse discutir a sério reações corretas à pandemia.
Note-se, a questão da cobertura de lucros cessantes está, muito grosso modo, normalmente associada a perdas patrimoniais de bens cobertos, o que, em tese, reduziria muito a chance de perdas causadas pela pandemia serem cobertas. Por outro lado, seguros de pessoas excluem perdas decorrentes de pandemias e tiveram suas reservas destinadas ao custeio de tais perdas.
Não se está dizendo que não há perdas decorrentes da pandemia cobertas por seguros. Tivemos conhecimento, por exemplo, de apólices de seguro contratadas e renovadas desde 2003 com o objetivo de compensar perdas causadas pelo cancelamento do torneio de tênis de Wimbledon, em decorrência de situação de pandemia e cujo sinistro será pago.
De qualquer modo, no futuro, outras situações de stress poderão estar sujeitas aos tratamentos equivocados ora apontados, e nem sempre os impactos poderão ser confortavelmente suportados pelas seguradoras.
Situações como apólices coletivas, em que o seguro foi contratado antes da pandemia, mas às quais segurados aderem após, especialmente considerando nossa prática de apólices “abertas” comercializadas para grupos indeterminados, são possíveis catalizadores de coberturas mesmo quando a eventualidade do risco estiver mitigada. Isso ainda que exclusões de pandemia (atualmente desconsideradas) ou mesmo especificamente da COVID-19 tenham sido expressamente estabelecidas.
Já há ações civis públicas buscando evitar que o não pagamento de contribuições que resulte na perda de coberturas de planos médicos. Nesse ponto, é curioso notar como a absoluta essencialidade de um plano de saúde é utilizada, de forma distorcida pela desinformação ou pela má intenção, como fundamento para destruir a sua viabilidade imediata, quando mais necessita de recursos.
Em suma, a exibição de pujante solidariedade humana e o comportamento de empresas com condição econômica para ajudar as vítimas da COVID-19 são talvez os aspectos mais bonitos da trágica situação pela qual passamos. São base para o vaticínio de que, passada a tempestade, descobriremos quão melhores podemos ser.
De fato, a empatia parece, como tantas vezes afirmado, o traço mais distintivo do ser humano, aquilo que nos permitiu inventar as cidades, as indústrias, a tecnologia e o amor. E nenhuma ação de exercício de empatia e solidariedade pode ser frontalmente atacada nesse momento, mesmo aquela que não alcance os melhores resultados ou aquela que seja executada de forma errada.
Contudo, feita essa ressalva, não há porque confundir solidariedade com obrigação contratual. Pelo contrário.
 *João Marcelo dos Santos
*João Marcelo dos Santos
Presidente da Academia Nacional de Seguros e Previdência, ex-Diretor e Superintendente Substituto da Superintendência de Seguros Privados e Sócio Fundador do Santos Bevilaqua Advogados.
*Ana Paula Costa
Presidente do Grupo Nacional de Relações de Consumo da Associação Internacional de Direito dos Seguros – AIDA – e Sócia do Santos Bevilaqua Advogados.
Esta publicação online se destina a divulgação de textos e artigos de Acadêmicos que buscam o aperfeiçoamento institucional do seguro. Os artigos expressam exclusivamente a opinião do Acadêmico.
Expediente – Diretor de Comunicações: Rafael Ribeiro do Valle | Conselho Editorial: João Marcelo dos Santos (Coordenador) | Dilmo Bantim Moreira | Felippe M Paes Barretto | Homero Stabeline Minhoto | Osmar Bertacini | Produção: Oficina do Texto |Jornalista responsável: Paulo Alexandre | Endereço: Avenida Paulista, 1294 – 4º andar – Conjunto 4B – Edifício Eluma – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01310-915| Contatos: (11)3335-5665 | secretaria@anspnet.org.br | anspnet.org.br |